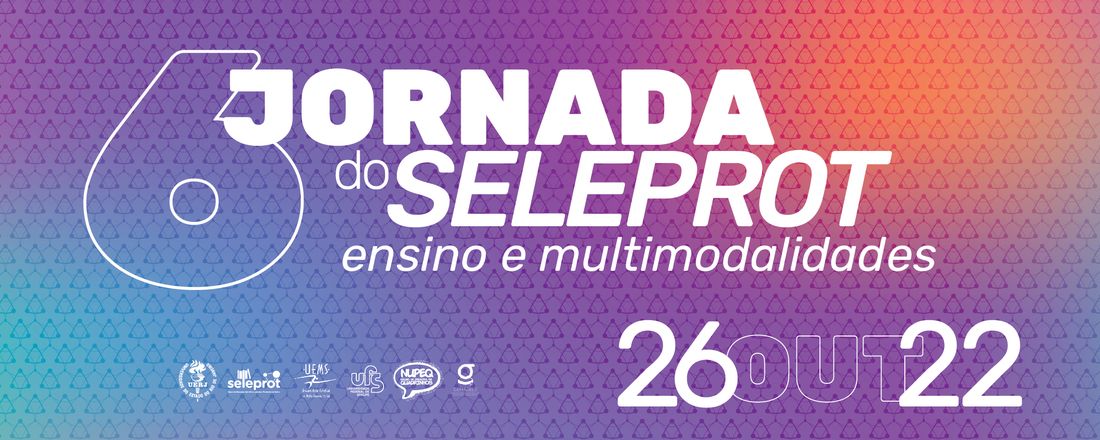A ARTE NA EDUCAÇÃO
Aira Suzana Ribeiro Martins (CPII/SELEPROT)
O homem, ciente de suas limitações e de seu desequilíbrio com o mundo, busca formas de preencher as incompletudes com experiências que possam promover sua integração com esse espaço, sendo a arte uma delas. Considerando a importância das manifestações artísticas, este texto faz uma reflexão sobre a presença da arte no trabalho pedagógico, como forma de trazer o universo para o espaço escolar e de suprir a necessidade do indivíduo de se sentir parte do todo, por meio da interação com as diversas linguagens artísticas que, muitas vezes, não são percebidas e, consequentemente, desvalorizadas. As criações artísticas da atualidade, nascidas em uma cultura, na qual as linguagens, os materiais e os recursos empregados se misturam, rompendo a oposição entre arte acadêmica e arte popular, devem ser apresentadas ao estudante. É importante que o indivíduo tenha um olhar atento para as manifestações artísticas presentes em espaços não necessariamente consagrados à arte. Para a compreensão das produções artísticas da atualidade e para o suporte teórico necessário ao trabalho em sala de aula, buscou-se o auxílio da teoria semiótica de extração peirceana, presente em estudos de Santaella (2001, 2003, 2015) e de Simões (2007).
A MÚSICA POPULAR E A HERANÇA DO TROVADORISMO
Claudio Artur O. Rei (SELEPROT/ SME-RJ)
Este artigo desenvolve uma leitura estilístico-semiótica da canção “Olhos nos olhos”, de Chico Buarque, com os objetivos de: mostrar uma herança estilística medieval presente na letra, no que tange ao aspecto lírico; produzir um quadro estilístico-semântico com marcações semióticas que orientam a interpretação das escolhas lexicais que caracterizam um resquício medieval do autor na canção estudada. Os pressupostos semiótico-estilísticos servem de moldura para a leitura dos textos musicais, demonstrando-lhes o potencial indicial, simbólico e semântico captáveis na letra em foco, além de identificar-lhe o estilo pessoal e documentarem a flexibilidade expressivo-comunicativa da língua portuguesa.
ARTE E ENSINO: DESENVOLVENDO HABILIDADES DE LEITURA
Claudia Moura da Rocha
Ao longo do tempo, tanto o conceito de texto como o de leitura se ampliaram. Por texto, por exemplo, não se concebe apenas o escrito. Portanto, uma pintura, uma escultura ou uma fotografia também podem ser consideradas textos em sentido lato. Partindo dessa premissa, propomos que o desenvolvimento de habilidades de leitura também pode se dar a partir de atividades didáticas que aliem as diferentes linguagens, por meio da leitura de textos em sentido estrito, como poemas e contos, e textos em sentido lato, como pinturas e esculturas, observando-se os aspectos semânticos e semióticos envolvidos na produção dos sentidos.
A TRADUÇÃO COMO PONTE PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: ALGUMAS REFLEXÕES
Maria Aparecida Cardoso Santos (UERJ)
O ensino de língua estrangeira tem sido perpassado pela adoção de diversos métodos que visam a facilitar o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. De um modo geral, a tradução acaba sendo excluída por causa de uma crença segundo a qual traduzir atrapalharia o aluno que não conseguiria atingir a autonomia linguística que lhe capacite a produzir discursos em conformidade com as diversas situações comunicativas. Não estamos de acordo com esta visão que julgamos limitada e vamos além: traduzir, muitas vezes, abre os horizontes das percepções linguísticas especialmente nos espaços onde as equivalências não ocorrem de maneira automática. Além disso, a tradução oferece a possibilidade de estabelecer comparações entre a língua estrangeira e a língua nativa/língua mãe, facilitando a compreensão dos elementos que estão sendo estudados na língua estrangeira. Neste sentido, defendemos que a tradução seja incorporada como método de ensino de LE nas situações em que o foco não seja a oralidade, mas a análise gramatical, por exemplo. Em outras palavras, ao contrário do que pensam os céticos, a tradução pode funcionar como uma ponte que permite transpor dificuldades para atingir resultados positivos.
O ENSINO DA LEITURA EM UM MUNDO MULTIMODAL
Darcilia Simões (UERJ-UEG/SELEPROT)
O eixo dessa apresentação é a necessidade de uma ensino voltado para a exploração da multimodalidade. A preparação para uma leitura em que uma profusão de códigos e linguagens interagem simultaneamente, o que exige o entendimento da natureza dos signos e de seu funcionamento. Com fundamentos em Kress & Van Leewen e Simões, entre outros, abordam-se os variados tipos de textos que circulam, especialmente no mundo digital, identificando e indicando estratégias de compreensão e interpretação dos signos constitutivos desses textos, com vista a orientar a leitura. Por fim, propõe-se uma articulação das instruções de leitura em aulas de língua, com seções de leitura em outras disciplinas, uma vez que os textos multimodais estão presentes nas diversas áreas do conhecimento.
O GÊNERO TEXTUAL LETRA DE CANÇÃO E AS ESTRATÉGIAS INTERSEMIÓTICAS DE PRODUÇÃO DE SENTIDO
André Conforte (UERJ/SELEPROT)
Em alguns trabalhos anteriores, temos tentado demonstrar que, para além das características assaz conhecidas como elementos diferenciadores dos gêneros textuais poema e letra de canção (suporte, condições de produção etc.), há outros fatores, como o arranjo musical, que, aliados aos planos lírico, melódico, harmônico e rítmico, atuam como coautores da construção de sentidos da canção, caracterizada, por isso, como um complexo semiótico, em que os diferentes planos estão sempre em sinergia no momento em que a peça musical é executada. No presente trabalho, escolhemos nos deter num elemento que, em determinadas condições históricas de produção, pode prestar-se, segundo hipótese de nossa autoria, para uma estratégia que entendemos como de encobrimento de intencionalidades discursivas. À guisa de estudo de caso, trabalharemos com canções compostas pela dupla de compositores Ivan Lins e Vitor Martins durante o período da ditadura militar no Brasil, e o elemento do complexo semiótico a ser privilegiado em nosso estudo será a própria escolha do gênero musical enquanto fator de despiste contra a censura. Com isso, tencionamos arrolar mais um entre tantos elementos a diferenciar, do ponto de vista não só formal mas também discursivo, os dois gêneros textuais a que nos referimos acima.
O TEXTO MULTISSEMIÓTICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Eleone Ferraz de Assis
Os gêneros textuais multissemióticos, com o advento das tecnologias da informação e comunicação, têm se tornado cada vez mais presentes nas práticas sociais da linguagem. Nessa perspectiva, as diretrizes curriculares nacionais apontam que é indispensável a utilização desses textos nas aulas de Língua Portuguesa. Pensando nisso, este estudo propõe discutir como os textos multissemióticos podem ser utilizados nas aulas de Língua Portuguesa da educação básica. O estudo fundamentará nos estudos sobre os gêneros textuais multissemióticos (DIONÍSIO, 2008; GOMES, 2017; KRESS, 2010) a iconicidade verbal (SIMÕES, 2009; ASSIS, 2017) e o ensino de Língua Portuguesa (BRASIL, 2017). Espera-se que estudo possa refletir sobre as possibilidades de didatização dos textos multissemióticos.
REPRESENTAÇÕES MESSIÂNICAS EM REINO DO AMANHÃ, DE MARK WAID E ALEX ROSS: UM OLHAR A PARTIR DA ICONICIDADE
Nataniel dos Santos Gomes (UEMS/NuPeQ/SELEPROT/ASPAS)
O processo de entender a perspectiva dos textos vai muito além de apenas identificar as linguagens que o compõem. A complementação entre os recursos utilizados localizam e estabelecem conexões entre o leitor e os elementos textuais para resultar em interpretações consequentes dessas combinações. Com base nos trabalhos de Simões (2004 e 2017) e McCloud (2004), analisaremos a representação messiânica exposta na série Reino do Amanhã, desenhada por Alex Ross e com roteiro de Mak Waid (1996). A história representa um futuro distópico baseado em textos apocalípticos, em especial o livro de Zacarias do Antigo Testamento judaico, considerado o proto-apocalipse. “[...] cumpre fazer-lhes uma leitura ultra-sígnica, atravessando o verbal e atingindo os não-verbais, que se somarão ao verbal para garantir os efeitos pretendidos [...] voltamos nosso olhar para a ausência de ingenuidade na produção textual. A combinação sígnica (verbal ou não-verbal) utilizada na construção dos textos é resultante de uma seleção, cujo apuro será maior ou menor, dependendo da relação existente entre emissor e receptor” (SIMÕES, 2004, p. 26). Nesse raciocínio, um dos aspectos capazes de interferir na aplicação e o código a ser utilizado deve ser entendível para o emissor e o receptor, conforme Simões (2017). Assim para semiótica visual, a imagem é uma manifestação autossuficiente, em que um texto comunica uma mensagem. Dessa forma, a ideia confirma o conceito de que a representação visual tem base icônica, tornando-se um ícone sintagmático composto de linhas, traços e cores, do qual surge uma interpretação e um significado dependendo da realidade em que o leitor está inserido.
TRADUÇÃO, LÍNGUAS E ENSINO – RELAÇÕES INTERSEMIÓTICAS
Carmem Praxedes (UERJ-SELEPROT)
Para a maioria das pessoas, traduzir é passar as palavras de uma língua para outra, assim mesmo, como se fossem etiquetas. Para nós especialistas em línguas, a complexidade que envolve esse processo segue muito bem expressa por Plaza (2010, p. 18) Por seu caráter de transmutação de signo em signo, qualquer pensamento é necessariamente tradução. Todavia, se por um lado essa afirmação expõe a complexidade do ato tradutório, por que cognitivo; ela também demonstra a sua socialização; ao instaurá-lo como um saber-fazer praticado por todos nós. Eco (2015, p. 9-10), por sua vez, faz um jogo de palavras a partir da pergunta O que quer dizer traduzir? Conduzindo tais palavras ao título motivado do seu livro Dizer quase a mesma coisa. Indo mais à frente na reflexão sobre o assunto, Eco (1993, p. 371- 379) retoma a intuição de Walter Benjamin ao sinalizar que o problema da tradução possa presumir uma língua perfeita, ou seja; o inefável, nas palavras do autor (op. ant. cit. p. 44); (...) capaz de exprimir toda a nossa experiência, física e mental, e portanto de poder expressar sensações, percepções, abstrações e responder até mesmo à indagação por que haja o Ser em lugar do Nada. Considerando ser o processo tradutório muito mais complexo do que possa comumente parecer, e a partir de estudos por nós realizados anteriormente, propusemos a aproximação e explicitação, cada vez mais necessária, entre os pressupostos que envolvem e vinculam tradução às línguas e ao ensino, tanto no plano da expressão e no do conteúdo, quanto na conceptualização e semasiologização dos dados da realidade com base em autores como Babini, 2006; Machado, 2003; Eco, 2015, 1993 e Plaza, 2010; Lotman, 2006, tendo em vista demonstrar aos estudantes e profissionais de Letras e Linguística caminhos possíveis de interlocução e as relações intersemióticas existentes entre a tríade tradução, línguas e ensino. Esse é, pois, um estudo multidisciplinar com ênfase linguístico-semiótica, na medida em que aproxima autores atuantes nessas áreas e domínios, muito especialmente a Semiótica das Culturas, estudos do Léxico e Terminologia.