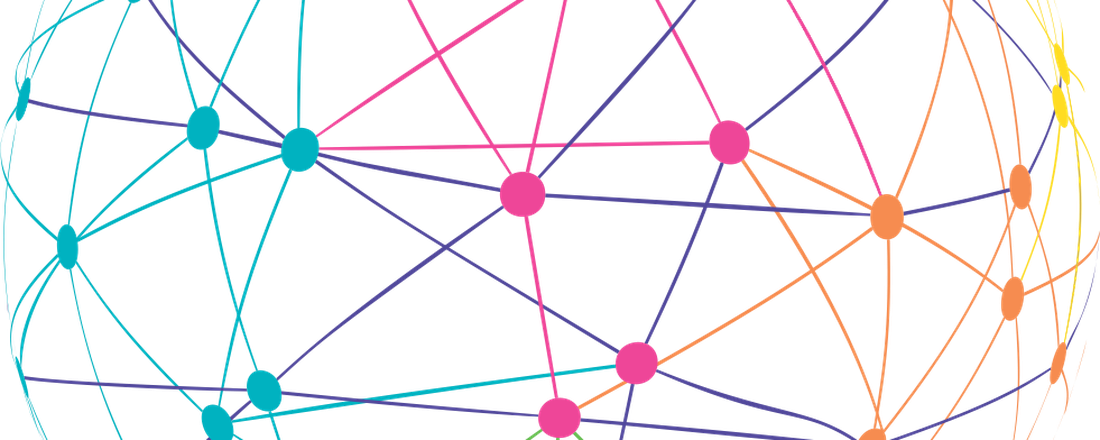
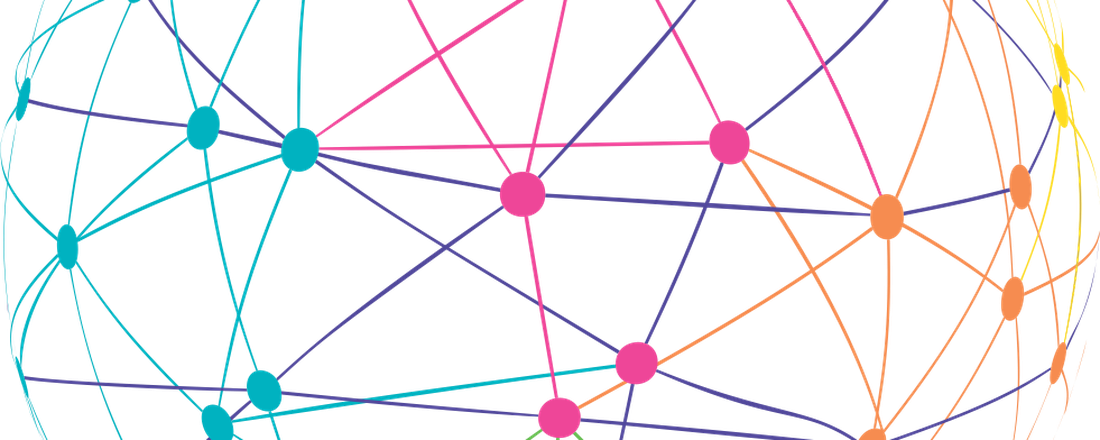
Universidade Estadual do Piauí CAMPUS ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA - Parnaíba - Piauí - Brasil
{{'Label_DoacaoAPartir' | translate}} {{item.valores[0].valor | currency:viewModel.evento.moeda}}
{{item.descricao}}{{entrada.valorComDesconto | currency:viewModel.evento.moeda}}

Todas as atividades estão incluídas na inscrição.
LISTA DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS APROVADOS (cada apresentador deve escolher um deles para propôr sua comunicação)
Simpósio Temático – 1
Sentidos de Ser Homem: Masculinidades subalternas e a dita masculinidade hegemônica em cena
Jakson dos Santos Ribeiro (UEMA)
Ronnie Cassio Coelho da Silva (SEMM)
Resumo
O presente Simpósio Temático (ST) visa reunir discussões, que tenham como o prisma de análise, as compreensões acerca do ideal de masculinidade que se estabilizou dentro das relações sociais e relações de gênero. Desse modo, o nosso olhar volta-se para debater e dialogar com pesquisas que problematizem o conceito hegemônico de masculinidades, as masculinidades produzidas na cena social que são reflexos das maneiras como os indivíduos homens cis e não-cis se definem e se percebem dentro das diversas relações de gênero no campo social. Neste sentido, o ST será um espaço para a realização de trocas de experiências de pesquisas que atravessam o homem, o seu corpo, a sua virilidade, a sua não-virilidade, a sua saúde, as suas emoções e as percepções históricas acerca de seu corpo. Assim, nosso ST está aberto a receber pesquisas das ciências humanas da Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia, Direito, História que tenham como eixo o homem e as suas masculinidades.
Palavras-chave: Masculinidades. Discursos. Subjetividades.
Simpósio Temático – 2
O sistema de Justiça, os Direitos Humanos e o enfrentamento às violências de gênero: entre avanços e desafios
Ângela Maria Macedo de Oliveira (UESPI)
Resumo
A luta por direitos é histórica e constantemente (re)atualizada, diz respeito não apenas às lutas e reivindicações sociais, como também a empatia, a capacidade de identificação com o outro, como pontua a historiadora Lynn Hunt (2009), que analisou o impacto cultural que a leitura dos romances epistolares acarretou entre os burgueses do século XVIII, criando espaço propício para ao surgimento dos Direitos Humanos. Estes são os sustentáculos que partilhamos contra os males da violência, da dor e da dominação (HUNT, 2009). A Carta das Nações Unidas de 1945, criou a Comissão dos Direitos Humanos que resultaria, três anos depois, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paralelo ao sistema global, houve também a criação dos sistemas regionais de proteção como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos - OEA (PIOVESAN, 2000). Posteriormente, ocorreu o movimento de especificações dos sujeitos titulares de Direitos Humanos (BOBBIO, 1992), um exemplo foi a elaboração de Declarações, Convenções e Tratados Internacionais exclusivos às mulheres, resposta às hierárquicas e históricas desigualdades entre os gêneros. Os direitos humanos das mulheres foram colocados na agenda social a partir dos ativismos dos movimentos feministas em diferentes países. A ONU no final dos anos setenta do século XX, reconheceu a discriminação contra a mulher como qualquer tipo de exclusão, ou restrição que prejudique ou anule, o reconhecimento e o exercício dos diretos humanos e das liberdades fundamentais nos campos: político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - 1979). O reconhecimento que os direitos das mulheres são direitos humanos, ocorreu em documentos como a Conferência de Viena (1993), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (OEA, 1994). Mesmo com diversas conquistas formais e jurídicas para as mulheres, o Brasil ainda convive com as mais diversas formas de violências que incidem nos corpos de mulheres e meninas. O Simpósio temático congregará trabalhos que abordem violações de direitos humanos com a perspectiva de gênero e outros demarcadores sociais, como raça/etnia, classe social, idade, orientação sexual, não se restringindo a violência doméstica e familiar.
Palavras-chave: Gênero. Violência. Direitos Humanos
Simpósio Temático – 3
Políticas da existência: práxis juvenil em contextos de conservadorismo global
Francisco Weriquis Silva Sales (UFPI)
Ianara Silva Evangelista (UFPI)
Tayná Egas Costa (UFPI)
Resumo
Simpósio Temático – 4
Práticas culturais no Brasil Republicano
Resumo
A história do Brasil Republicano é marcada por uma miríade de re(a)presentações dos modos de vida dos brasileiros dessa experiência tão tumultuada quanto rica. Nesse sentido, as práticas culturais elaboram e propõem saídas para a vida cotidiana em diversos níveis: nas múltiplas festas que cortam (e interpretam) o país, nas manifestações artísticas (cinema, fotografia, artes gráficas e plásticas), nas práticas de lazer e também nos suportes impressos - seja os da imprensa periódica ou os de produção independente. Essas intervenções encerram certa “cidadania cultural”, segundo Rachel Soihet. Ou seja, distantes dos círculos decisórios do poder, os brasileiros produzem outras leituras de país, sintomatizam os descontentamentos e podem galvanizar as convulsões sociais da conjuntura política em que estão inseridas. A proposta desse simpósio temático não é outra senão a de debater o Brasil Republicano tendo como vértice as práticas culturais brasileiras e seu potencial interpretativo da realidade social.
Movimentos sociais e educação
Nelson Ferreira Marques Júnior (UFRRJ)
Resumo
Como afirma Maria Gohn: “a educação não se resume à educação escolar, realizada na escola propriamente dita. Há aprendizagens e produção de saberes em outros espaços, aqui denominados de educação não-formal” (GOHN, 2010). Portanto, trabalharemos com uma concepção ampla de educação.
Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos sociais é: eles são fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. Por isto, ao analisar estes saberes deve-se buscar as redes de articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana, e indagar sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural do país quando as articulações acontecem. Trabalhar com os movimentos sociais na educação básica e superior é fundamental para a transformação social e a ampliação das referências. Vale ressaltar que este simpósio leva em consideração documentos norteadores para educação, tais como: a Lei n° 7716 da Constituição Federal, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Simpósio Temático – 6
Juventude, Cultura e Gênero
Teresinha Queiroz (UFPI)
Pedro Vilarinho Castelo Branco (UFPI)
Elizangela Barbosa Cardoso (UFPI)
Resumo
O poder jovem, em acelerada ascensão, colide com os poderes instituídos da família e do Estado centralizado. A visibilidade e a força da vontade transformadora dos jovens é um dado ainda novo e provoca alterações inquietantes nesse universo. A rebeldia juvenil se exercita amplamente nos espaços domésticos e os filhos viram de ponta-cabeça o estilo de vida, os costumes e os modos de seus estupefatos pais, colocando as relações extra-domésticas como indiscutíveis espaços de imposição das novas relações. Os conflitos no âmbito doméstico agora se centram na inaceitação da moda escandalosa e exibidora do corpo que desnuda moças e rapazes, na extravagância dos acessórios, na energia excessiva catalisada na direção dos espaços públicos e do lazer, no consumo visto como exacerbado de bebidas, cigarros e outras drogas e que alcança com extraordinária rapidez também as mulheres. Essa verdadeira multidão de jovens que se desconfinam também se transforma em ameaça ao sossego público e mais adiante passa a ser vista como representando perigo para a estabilidade das instituições. Essa virtualidade do conflito dá o diapasão das relações tanto no âmbito privado quanto no público. Parecem ameaçadoras não apenas as ações lúdicas, a busca do prazer e o mergulhar na alegria partilhada, como a possibilidade de associação, sob qualquer pretexto, que poderia resvalar para a conspiração política.
A revolução do novo se instaura com vigor no campo das artes, núcleo maleável em que poderiam ser gestadas formas de expressão ainda não capturadas pelo repertório da censura estatal onipresente e talvez o lugar mais visível da ebulição cultural não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Na música, a notável expansão das influências americanas e europeias ajudam a intensificar o já movimentado cenário brasileiro – onde a velha guarda do samba perde espaço para a bossa nova, para os sambistas da nova geração e para os ritmos importados que penetram de forma massiva – o ié-ié-ié, o rock’n’roll em todas as suas variações, os ritmos pops e a música romântica que se recupera no seio da juventude, especialmente pelas traduções. Com exceção dos sambas, antigos e novos, da bossa nova e ainda da invenção sofisticada dos tropicalistas, o movimento da Jovem Guarda absorve, sintetiza e divulga toda essa miscelânea musical. Ritmo, barulho, animação e alegria como formas jovens de expressão encontram no lazer em torno da música o espaço ideal. Assim, o objetivo do Simpósio Temático é abordar as relações entre juventude, cultura e gênero, a partir dos anos 1960.
Simpósio Temático – 7
Interações epistemológicas na produção dos saberes: diálogos da História
Antonia Valtéria Melo Alvarenga (UESPI/UEMA)
Pedro Pio Fontineles Filho (UESPI)
Resumo
Palavras-chave: epistemologia. História. Produção de saberes.
Simpósio Temático – 8
História da saúde e das doenças: interfaces entre as múltiplas perspectivas de pesquisa
Joseanne Zingleara Soares Marinho (UESPI)
Rafaela Martins Silva (UFPI)
Resumo
Considerando que a incorporação de novos objetos à história adquiriu dinamização a partir dos anos 1970, têm-se observado a ampliação do estatuto da investigação. No âmbito das novas temáticas que elegem o corpo como objeto, a área história da saúde e das doenças atua “[...] forjando novas agendas de pesquisa, revigorando campos consolidados mas, contudo, reivindicando cada vez mais sua natureza fundamentalmente multidisciplinar.” (HOCHMAN; TEIXEIRA; PIMENTA, p. 9, 2018). As relações sociais e culturais tecidas no campo da história da saúde e das doenças levam-nos a identificar esta temática enquanto espaço de exercício de disciplinas, sendo permeado por sentimentos e ações contraditórios que resultaram em antagonismos, normalizações, conflitos, negociações e resistências (LE GOFF,1991). O objetivo deste simpósio temático consiste em reunir e sociabilizar trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na esfera da história dos saberes e práticas médico-científicas, governamentais, filantrópicas, populares e mágico-religiosas, concernentes a instituições e a espaços em que diversos sujeitos históricos atuaram. A proposta tem o intuito de contemplar estudos de professores, pesquisadores e estudantes que se dedicam à análise dos contextos históricos/socioculturais de produção, uso, circulação, apropriação e ressignificação dos conhecimentos e iniciativas de cura, mas também de prevenção das enfermidades, atentando para os atores envolvidos nas mais diversas temporalidades e recortes espaciais. Oportuniza pensar as variadas perspectivas de estudo possibilitadas pelo tema em questão – gênero, políticas públicas, filantropia, hospitais, asilos, médicos, enfermeiros, sanitaristas, feiticeiros, serviços sanitários, saneamento urbano, saneamento rural, saúde maternal, assistência infantil, clima, pobreza social, relações de poder, entre outros. Esses pontos de discussão, comumente, aparecem narrados em fontes primárias como: jornais, revistas médicas, literatura, biografias, relatórios e mensagens governamentais, decretos, atas, ofícios e regimentos institucionais, sendo construídos pelos sujeitos históricos que protagonizaram essas experiências. Cumpre-se ainda dizer, que este simpósio engloba trabalhos focados nas interpretações sobre a história de áreas disciplinares e institucionais, entre as quais a psiquiatria, a enfermagem, as políticas públicas, a medicina legal, clínica e sanitária, no tocante à maneira como suas produções discursivas e técnicas agiram e agem no sentido de tentar conduzir e tutelar hábitos.
Desafios para a educação, o ensino e a docência diante de retrocessos
Fabricia Teles (UESPI)
Felipe Ribeiro (UESPI)
O contexto atual no Brasil apresenta um quadro bastante ambíguo e desafiador para a educação: por um lado, uma série de legislações e normativas federais – conquistada paulatinamente, desde a década de 1980, com muita luta e mobilização de educadora(e)s – na defesa de práticas pedagógicas democráticas e inclusivas em todo ambiente escolar; e, de outro, a ascensão de grupos políticos que visam desmontar todo esse arcabouço legal, bem como desvalorizar o reconhecimento prático e teórico deixado por educadores, a exemplo de Paulo Freire. Dentre as medidas que configuram retrocessos estão desde a redução de investimentos no ensino público até as ameaças à liberdade de cátedra dos docentes, sob a alegação de que estariam “doutrinando aluna(o)s” e “dividindo o país”. Diante deste descompasso que vive a educação brasileira – entre respaldos legais e ações governamentais contrárias – o presente Simpósio Temático busca reunir professora(e)s e pesquisadora(e)s preocupados em debater essas questões, compartilhar experiências e propor caminhos para a superação das ameaças e dos retrocessos. Serão valorizadas propostas de comunicação com abordagens transdisciplinares e interdisciplinares, especialmente no que tange às possibilidades de intervenção pedagógica para combater a exclusão por gênero, classe e raça/etnia, o sexismo, o racismo, a homofobia e a desigualdade social em diferentes contextos educacionais. Embora partindo do contexto brasileiro, este simpósio pressupõe reflexões globais sobre a temática, tendo em conta diversos outros grupos similares que defendem pautas retrocedentes no campo da educação em outros países.
Simpósio Temático – 10
Temas livres
Fernando Bagiotto Botton (UESPI)
Resumo
LISTA DE MINICURSOS (cada inscrito terá o direito de participar de um deles)
Minicurso - 1
Interpretações periféricas: entre conceitos e aplicabilidades
Mary Angélica Costa Tourinho (UESPI)
Washington Tourinho Júnior (UFMA)
A interpretação do social, nas suas mais diversas matizes, encontra-se hoje inserida em um debate estrutural envolvendo, de um lado, o pensamento eurocentrista e suas concepções de identidade, sujeito, relações de poder, cultura, formação socioeconômica, geopolítica, etc; e, de outro, o nascente pensamento decolonial que, centrado em uma intelectualidade “periférica” tem posto em cheque as concepções dominantes (geradas por anos) do pensamento eurocentrista. Baseado nas leituras de autores como Homi Bhabha, Boaventura Santos, Achille Mbembe, Frantz Fannon, Paul Gilroy, Berenice Bento, Leomir Hilário e Inocência Mata, bibliografia que hoje habita o pensamento decolonial, propomos a apresentação de novos parâmetros para a discussão dos temas que hoje habitam o debate teórico nacional como: a intelectualidade do espólio, a crise sistêmica das democracias, as políticas de inimizades, a nova dimensão de sujeito e identidade cultural, a necropolítica e o governo privado indireto. Tais questões possuem como objetivo central demostrar a proximidade destas discussões com a realidade brasileira e a aplicação destes conceitos em um contexto de intensa radicalização, incorporação da violência como forma de construção da normalidade e fundamentalização teórica.
Minicurso – 2
A bruxa: a primeira invenção estatal do inimigo
Janaína Fortes Ferreira (UESPI)
Jefferson Cícero de Mesquita Soares (UESPI)
Resumo
Nossa proposta é analisar criticamente, sob viés criminológico, a invenção da “bruxa” como inimiga interna do Estado na Idade Média, assim como a perpetuação da mulher demonizada nas nossas penitenciarias no momento-hoje. O processo racionalizador do poder no século XII, responsável pela re(criação) do aparato político-jurídico de punição, inaugura o processo inquisitório. A invenção do inimigo interno (invenção do medo) é peça-chave para o nascimento do Estado colonizador e para criação de novos discursos de verdade. A caça ao herege, ao homossexual, à bruxa tecem a moral social necessária ao Estado que ressurgia: a família patriarcal, obediente ao Estado e à Igreja não pode ser ameaçada pelos dissidentes. O Estado não sobrevive sem o poder punitivo; o poder punitivo só se justifica se houver um inimigo: e o inimigo precisa ser excluído (queimado ou encarcerado). Nada mais eficaz na coesão social e legitimação do Estado autoritário que a invenção de um inimigo. E quem eram as bruxas? Mulheres sem marido, curandeiras (com seus caldeirões e suas ervas malignas), sem ninguém a lhes reivindicar a vida. A hierarquização do poder autoritário necessita de um núcleo social verticalizador: a família patriarcal, hierarquizada e autoritária. Ocorre que o racismo e o machismo são provavelmente os pilares sociais do atual neoliberalismo; daí a atualidade, quiçá necessidade, do paradigma. E quem é a inimiga interna comum hoje? Mulher, negra, mãe, sozinha, de extrato social vulnerável: esta é a bruxa perseguida pelo Estado Penal em 2020. O Infopen (Departamento Penitenciário Nacional) aponta um crescimento de 700% (setecentos por cento) no encarceramento desta bruxa – mulher, e traficante: porque é preciso demonizar o inimigo. A história pode oferecer preciosas chaves para compreensão da mulher como inimiga do próprio Estado, o que pode esclarecer o fato da criminalização da violência doméstica (Lei Maria da Penha) não ter feito decrescer tal violência. A bruxa, velha (com verrugas), da floresta (longe da racionalidade da cidade) é morta brutalmente nos contos de ninar crianças, para que estas, quando cresçam, não se assustem com o número de mulheres (traficantes, demoníacas) mortas na guerra ao tráfico. Perguntemos: pode ser a bruxa o paradigma moderno do inimigo interno comum? e hoje? quem são as bruxas? quem lucra com sua carne assada?
Literatura e educação: práticas docentes e reflexões sobre a produção literária de autoria negra no Brasil
Jéssica Catharine Barbosa de Carvalho (UFPI)
Risoleta Viana de Freitas (UEMA)
Alice Maria Araújo da Fonseca (UFPI)
Resumo
Na obra Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade (2017, p. 51), bell hooks afirma a necessidade de fazer do aprendizado escolar uma experiência de inclusão, respeitando os diversos grupos e formações sociais, bem como suas realidades. Para isso, ela disserta a respeito das práticas pedagógicas atuais, ainda ancoradas em um modelo de pensamento e experiência única, tida como universal, sobre a qual a maioria de nós foi formada e somos induzidos a reproduzir. A teórica desenvolve reflexões sobre a prática docente e o papel do professor na construção de modos múltiplos de transmissão e diálogo dos conteúdos e temas com os alunos, de forma que o ensino assuma uma perspectiva de transformação social. Nesse sentido, no presente minicurso, vinculado às atividades realizadas no Grupo de Pesquisa Teseu o labirinto e seu nome, vigente na Universidade Federal do Piauí (UFPI), propomos a discussão a respeito da relação entre a literatura negra brasileira e sua presença na Educação Básica, enfocando dois eixos principais: a) leis e diretrizes para a Educação das Relações Étnico-raciais; b) práticas docentes com leitura e reflexões sobre obras de literatura negra brasileira. A partir desses dois eixos, convidamos pesquisadores e professores da Educação Básica para o diálogo a respeito de metodologias que envolvem um ensino plural e questionador em torno de suas práticas educativas, buscando um ensino que leve os educandos a refletirem sobre a realidade social em que estão inseridos, inclusive questões raciais e de gênero. Para isso, a literatura negra brasileira contemporânea será o meio norteador das discussões, tendo em vista seu potencial de aproximação com os alunos, bem como o atual estado de campo das pesquisas em torno dessa literatura, fornecendo vasto material de acesso aos docentes da Educação Básica. Algumas das referências que auxiliam nas discussões são hooks (2017), Debus (2017), Moreira (2014), Oliveira, Carvalho e Alves (2018), entre outros.
História da Saúde e das Doenças: abordagens sobre filantropia e saúde pública entre o final do séc. XIX e início do séc. XX
Aleisa de Sousa Carvalho Rocha (UFPI)
Ana Karoline de Freitas Nery (UFPI)
Resumo
A incorporação de técnicas médicas à vida cotidiana vem ocorrendo de forma intensa, desde as últimas décadas do século XIX, e a partir de meados do século XX. Dessa forma, o minicurso tem como objetivo analisar as relações entre saúde/doença e suas implicações sociais, culturais e econômicas na sociedade, as práticas institucionais em torno das doenças e o surgimento das políticas de saúde de iniciativa pública e privada direcionadas à saúde da população, no período que se estende entre o Império, ao período da Era Vargas, que compreende as primeiras políticas públicas assistencialistas de saúde direcionadas à população. Além disso, busca-se entender as relações entre caridade e filantropia no Brasil e promover um diálogo sobre o campo de estudo História, Saúde e Doenças. Com a abrangência desse campo, os trabalhos produzidos nos programas de graduação e pós–graduação do País sobre essa temática encontram-se em crescimento, evidenciando um processo de constituição, com objetos, abordagens, fontes, metodologias e relações ainda muito promissoras. Diante disso, identificaremos os novos olhares e possibilidades de pesquisa dentro deste campo e sua constituição no Piauí.
Minicurso - 5
Mulheres de letras no México do século XX
Viviane Bagiotto Botton (UNAM-México; Paris XII - França)
Resumo em breve.